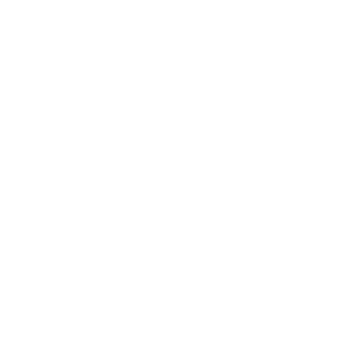António Jácomo: "A ética do planalto"
Desde o início da pandemia que somos assolados por um chorrilho de pareceres, relatórios, artigos, opiniões e reflexões sobre as questões éticas associadas à Covid-19.
Quase de forma frenética, vemos acotovelarem-se tomadas de posição que basicamente dizem o mesmo: começam com uma defesa da dignidade da vida humana, perante a indignidade da possibilidade de que a vida humana possa não ter o mesmo valor, e termina numa posição mais ou menos sedutora e reconfortante de defesa de um utilitarismo assente em três argumentos:
- A eficácia e a eficiência;
- A assistência ética à decisão clínica;
- O critério último da maximização do bem.
O argumento da eficácia sustém que, perante a escassez de recursos, é necessário maximizar os parcos bens, justificados pelo desinvestimento na área da saúde.
Na defesa do argumento da complementaridade da ética na decisão clínica, a lógica é a afirmar que à ética não está reservada a condição de propor respostas, mas uma condição supletiva da decisão que será sempre clínica.
Quanto ao terceiro argumento, o da maximização do bem, aventa-se a necessidade de justificar que, nas situações de crise, o bem individual deve ser subordinado ao bem comum.
Confesso que toda esta argumentação, tentadora e perniciosa, deixa-me inquieto, com a sofismática pergunta “Para que serve a ética?”. A maior parte das vezes, perante o corrupio da argumentação apresentada, esta pergunta parece inusitada. Mas, no fundo, há algo que não quadra, algo que choca com a intuição ética de que nos fala Robert Audi. A história da reflexão ética não pode agora ser reduzida a um mero adereço ao serviço de critérios economicistas camuflados.
Para acicatar ainda mais a questão, temos assistido a um exercício lúdico de distinção entre racionamento e racionalidade. Esta disputa, tão antiga quanto o próprio conceito de justiça, parece estar agora a ser reinventado, mesmo depois do parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) o ter abordado de forma tão polémica como consensual. Afinal, parece que falamos da mesma coisa quando utilizámos um ou outro termo. E o pior é que nem um nem outro dão resposta sobre a escolha de quem deve ser tratado.
No debate ético sobre a Covid-19, o racionamento tem sido o ponto central de uma argumentação com alguma falácia: a escassez de recurso obriga a uma política de rateio na alocação dos equipamentos, em especial os ventiladores, obrigando a uma seleção dos doentes que, à falta de critérios clínicos, se rege por critérios associados ao idadismo. Com este critério, os mais velhos, por serem velhos, seriam os últimos da lista.
O sofisma desta tese parte da assunção de que a escassez de recursos é inevitável e que justifica a renúncia ao lema societário ancestral sustentado nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas “Não deixar ninguém para trás”.
Este lema, considerado por alguns idílico, recorda-me a brilhante distinção entre uma ética da responsabilidade e da convicção feita por Weber. Ao contrário de Maquiavel, que defendia que a missão da salvação da cidade era superior à da salvação da alma, Max Weber procurou conciliar as duas posições distinguindo entre ética de convicção e ética de responsabilidade na qual nos encontramos divididos entre uma ética livre e pessoal de convicção e a ética da responsabilidade determinada pela ponderação da circunstância. A circunstância justifica, assim, a impossibilidade de um juízo de valor pessoal, conduzindo a um pragmatismo utilitarista.
Ler artigo completo aqui.
Categorias: Instituto de Bioética