"Prós e Contras" - A vida depois da Covid
Há setores da vida nacional que estão a pensar novas estratégias para retomar a atividade sob o impacto da pandemia. Uns vão ter que se adaptar, é o caso do turismo, outros, como a indústria, começam a equacionar caminhos em função da necessidade dos mercados e da alteração geopolítica. Alguns dos nossos convidados vão refletir sobre o futuro do setor industrial e das exportações, tão decisivas para o PIB nacional.
Participação de Rui Fiolhais, presidente do Instituto da Segurança Social, de Carlos Oliveira, membro do Conselho Europeu da Inovação, de Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC - Associação Empresarial para a Inovação, de José Manuel Fernandes, presidente do Grupo FREZIT, de Patrícia Fragoso Martins, professora na Faculdade de Direito da Universidade Católica.
Para ver ou rever o programa "Prós e Contas" da RTP1, clique aqui.
Categorias: Faculdade de Direito - Escola de Lisboa
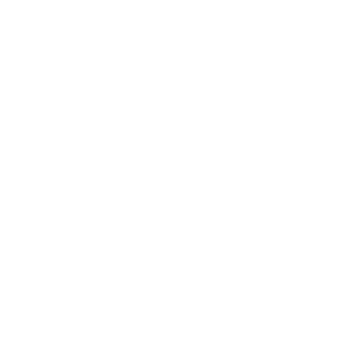


 A biosílica sustentável é obtida a partir de cinzas de cana-de-açúcar, provenientes da queima de subprodutos das indústrias produtoras de açúcar para geração de energia, incluindo as folhas resultantes do processo da colheita da planta e do bagaço, material fibroso obtido após extração do xarope de açúcar. O novo ingrediente, o primeiro do mundo a ser criado com base em recursos sustentáveis, poderá ser usado, agora, na indústria cosmética, assumindo-se como uma alternativa sustentável e com melhor desempenho à sílica tradicional, extraída da areia, um recurso com intensa exploração no planeta.
A biosílica sustentável é obtida a partir de cinzas de cana-de-açúcar, provenientes da queima de subprodutos das indústrias produtoras de açúcar para geração de energia, incluindo as folhas resultantes do processo da colheita da planta e do bagaço, material fibroso obtido após extração do xarope de açúcar. O novo ingrediente, o primeiro do mundo a ser criado com base em recursos sustentáveis, poderá ser usado, agora, na indústria cosmética, assumindo-se como uma alternativa sustentável e com melhor desempenho à sílica tradicional, extraída da areia, um recurso com intensa exploração no planeta. investigadora
investigadora